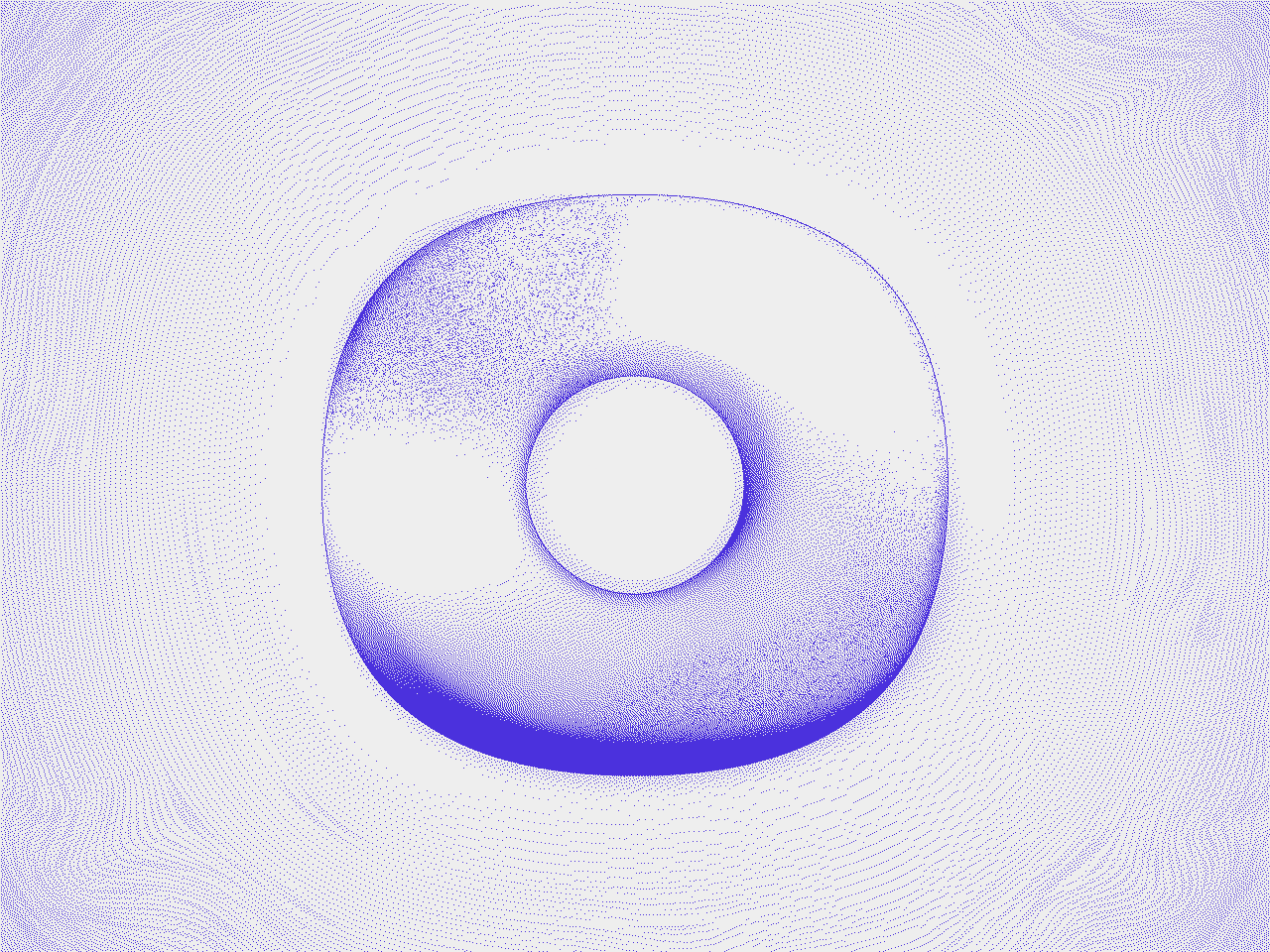“O que devemos fazer nós, no Congresso da República, sobre a inteligência artificial?”, pergunta Diego Caicedo, um jovem deputado da Colômbia, em um vídeo publicado no seu perfil do Instagram. Ao seu lado Pablo Nieto, outro colombiano, responde: “Criar marcos regulatórios que promovam a inteligência artificial” e “escutar todas as partes interessadas”.
Esse não foi um intercâmbio casual, nem por onde ocorreu, nem por quem falava, nem pelo que diziam. Caicedo é um legislador; Nieto, um representante de uma associação de Big Techs.
Ambos fazem parte de uma ampla rede de influência com a qual grandes empresas tecnológicas como Google, Amazon, Meta, Microsoft, incidem sobre políticas públicas da América Latina. Outras peças neste jogo silencioso incluem congressistas que defendem seus argumentos, lobistas que impulsionam suas narrativas, especialistas e ex-funcionários que vendem interesses corporativos como se fossem de interesse público.
Quando as techs não querem expor seus próprios lobistas, recorrem a terceiros, como escritórios de advocacia ou associações setoriais. Esses grupos se reúnem frequentemente com atores públicos, organizam congressos internacionais, produzem estudos para “informar” os ministérios e enviam suas ideias sobre projetos de lei argumentando “amor” ao progresso.
Seu trabalho, como explicou a esta aliança jornalística Andrés Hernández, diretor executivo da Transparência Internacional na Colômbia, é conseguir “capacidade e acesso a tomadores de decisão e a qualquer mecanismo que permita influenciar decisões”.
Nada disso é ilegal, nem tampouco original. Assemelham-se às operações de outras multinacionais, como as mineradoras, tabaqueiras ou farmacêuticas.
No entanto, há uma diferença abismal entre as demais multinacionais e essas gigantes tecnológicas. Diferentemente daquelas que influenciam um setor apenas, as Big Techs intermediam quase toda atividade humana: desde falar com a família até organizar a agenda, chegar a um endereço, fazer reuniões virtuais e ler notícias. Fugir delas requer um grande esforço. E sua influência sobre nossas vidas só vai crescer, levando em conta o ritmo em que a inteligência artificial vai se infiltrando em tudo o que fazemos.
Estamos falando da Alphabet, dona do Google, YouTube e dezenas de outros aplicativos muito úteis, que ajudam a se localizar com mapas, estudar ou até fazer jornalismo investigativo. Segundo sua própria definição, a Alphabet tem a missão de “organizar a informação do mundo e torná-la acessível e útil para todos”. “Dar um Google” já é verbo em todos os idiomas, sinônimo de buscar informação; e embora haja outros mecanismos de busca, nenhum está tão metido na vida diária dos latino-americanos.
Para a Meta, proprietária do Whatsapp, Facebook e Instagram, o objetivo é “construir o futuro das relações humanas e a tecnologia que as torna possíveis”. “Mandar um zap” virou outra expressão. Todos os dias, milhões de pessoas expõem sua vida e milagres no Facebook e no Instagram.
Essas plataformas nos conhecem profundamente e entregam aos publicitários que vendem anúncios – sejam de sabão ou de campanhas políticas – informações até sobre nossos estados de ânimo para que estes vendam produtos sob medida. Segundo relatórios da Meta, em um dia de dezembro de 2024, em média, 3.350 milhões de pessoas estavam usando algum dos seus aplicativos. Quase metade da humanidade.
Tamanha influência na política, nos direitos humanos, no bem-estar social, na saúde pública, na saúde mental dos jovens, na economia – além do fato de que seus produtos são praticamente indispensáveis para ter uma vida funcional – levaria a pensar que é crucial regular essas corporações para dar ao Estado e aos consumidores ferramentas para evitar abusos econômicos.
Mas como comprovou esta investigação jornalística, A Mão Invisível das Big Tech, liderada pela Agência Pública e pelo Centro Latino-Americano de Investigación Periodística (CLIP), unindo 15 organizações reportando de 13 países, regular as grandes tecnológicas não tem sido tarefa fácil. Elas têm fundos infinitos para travar todas as batalhas. Seus algoritmos se escondem atrás do segredo industrial e requerem conhecimentos sofisticados para serem regulados sem que se caia na censura. E elas resistem a todo custo às normas locais que podem estragar seu modelo de negócios global.
Uma base de dados elaborada de forma coletiva a partir de informação pública disponível online, com pedidos de acesso à informação, entrevistas com dezenas de fontes em governos, congressos e empresas tecnológicas, com especialistas e acadêmicos, pôde documentar 2977 ações de influência em dez países e na União Europeia, a maioria destas desde 2019 até junho de 2025. Estas ações envolveram 1516 representantes diretos ou indiretos das tecnológicas que, em defesa das posturas da indústria, interagiram com 2508 servidores públicos, desde congressistas, servidores de órgãos reguladores, ministros até diretores de escolas e hospitais públicos.
Além disso, esta investigação descobriu o tamanho da necessidade de mitigar os impactos indesejados dessas Big Tech. Contando só a União Europeia e outros 11 países, foram apresentados desde 2019 pelo menos 801 projetos de lei para, por exemplo, melhorar a moderação de espaços digitais para crianças e adolescentes, bloquear contas que disseminam ódio, fazer cumprir leis nacionais eleitorais ou de proteção de dados, responsabilizar as plataformas por conteúdos danosos e punir usos prejudiciais da Inteligência Artificial.
Esta aliança jornalística também compilou 315 processos judiciais em apenas cinco países – Australia, Brasil, Canadá, Chile e Colombia – iniciados a partir de 2022 contra as Big Techs. Desde a denúncia de um cidadão comum pelo mau uso de um vídeo ou uma imagem até reclamações pela não moderação de conteúdos nocivos ou o não cumprimento de normas de privacidade. As empresas de tecnologia também processaram governos para se opor a sanções ou normas que limitam suas operações.
Em resposta a questionários detalhados enviados por esta aliança jornalística sobre suas ações de lobby, as Big Tech preferiram emitir declarações genéricas reconhecendo suas interações com representantes políticos e tomadores de decisões públicas em temas que competem a seus negócios ou seus produtos, mas afirmam que essas interações seguem normas éticas e as leis dos países onde atuam. Todas as respostas podem ser lidas, na íntegra, aqui.
Uma foto importante
O encontro no qual o deputado colombiano Caicedo entrevistou seu compatriota Nieto chamou-se Digiecon 2025 e aconteceu em abril deste ano na Cidade do México. Reuniu pelo menos 15 congressistas da América Latina com executivos do TikTok, Meta, Google, Rappi e Mercado Livre, entre outras, para debater “economia digital” e “desenvolvimento social e econômico”.
O Digiecon 2025 foi organizado pela Associação Latino-Americana de Internet (ALAI), associação comercial que reúne as techs. Entre os presentes, além de Caicedo, estavam outros quatro congressistas colombianos (Ciro Rodríguez Pinzón, Carlos Guevara, Irma Luz Herrera e Daniel Restrepo Carmona), os deputados brasileiros Any Ortiz (CIDADANIA - RS) e seus colegas Rodrigo Valadares (UNIÃO - SE) e David Soares (UNIÃO - SE), quatro argentinos (Juan Manuel López, Dahiana Fernández Molero, Karina Banfi e Santiago Santurio), três legisladores chilenos (Leonardo Soto Ferrada, Francisco Chahuán e Paula Labra); e outros da Guatemala (Manuel De Jesús Archila Cordón), Costa Rica (Kattia Cambronero Aguiluz) e Peru (José Ernesto Cueto), segundo fotos e registros de redes sociais. Também compareceram outros funcionários públicos de diversos países.
Alguns dos convidados protagonizam a discussão sobre temas digitais nos seus países, propondo —e, às vezes, freando— projetos de lei, ou avançando os interesses das Big Techs no Congresso. A foto é, portanto, uma metáfora potente de como seus tentáculos se estendem pelo continente.

Caicedo, por exemplo, impulsionou em setembro de 2024 uma comissão temporária para estudar os projetos de lei sobre Inteligência Artificial, justamente quando outra comissão se dispunha a fazer o mesmo. A justificativa era unificar várias iniciativas regulatórias, mas o senador colombiano Alirio Uribe, que impulsionou vários destes projetos, disse ao site Cuestión Pública e ao CLIP que a comissão de IA foi criada “para obstruir todos os projetos”. Segundo ele, “o que fizeram foi pegar todos os projetos, revisá-los, e depois apresentaram artigos sem efeito”. Desde então, a única legislação sobre IA aprovada pelo legislativo colombiano se restringe a tornar mais graves golpes praticados com o uso da ferramenta.
Caicedo não respondeu às perguntas sobre seu papel no trâmite dos projetos de lei de inteligência artificial, nem sobre o vídeo que publicou com Nieto.
Nieto, gerente de políticas públicas da ALAI para a região Andina, tem uma presença permanente no Congresso da Colômbia. Aparece em audiências públicas e escreve notas técnicas sobre projetos de lei, mas também organiza eventos abertos ou fechados com os legisladores e cultivou relações próximas com Caicedo e com outros congressistas colombianos, segundo constatou a reportagem em eventos públicos e conteúdos de redes sociais.
Entre outubro de 2023 – quando começou a trabalhar na ALAI – e dezembro de 2024, Nieto fez 22 visitas a congressistas, segundo resposta a um pedido de informação feito pelo site Cuestión Pública.
No Equador, Nieto também fez incidência a favor das Big Techs no processo de regulamentação posterior à Lei de Proteção de Dados, aprovada em 2021. A primeira regulamentação, aprovada em 2023, foi construída com participação de associações da indústria e quase nenhuma participação de outros setores, segundo apurou o site Primicias, que faz parte desta aliança jornalística.
Em 2024, Nieto reuniu-se com Fabrizio Peralta Díaz, superintendente de Proteção de Dados Pessoais do Equador, para discutir aspectos pontuais da lei, segundo consta em registros públicos. E em abril de 2025, Peralta Díaz viajou ao México para o Digiecon, onde encontrou Nieto e Raúl Echeberría, diretor executivo da ALAI.

Sobre sua relação com a ALAI, Peralta Díaz afirmou ao Primicias que não recebeu pressões desse nem de nenhum outro ator. “Com Pablo [Nieto] nunca eu recebi nenhuma petição particular ou especial, além da possibilidade de serem escutados”, disse.
A ALAI afirmou que “as comunicações com oficiais de governos e parlamentares são realizadas através dos canais formais de comunicação habituais para cada país”.
Jornalismo com IMPACTO
Ajude o Núcleo a continuar fazendo a diferença por uma internet melhor. Confira nossos impactos aqui e assine por apenas R$ 10 para apoiar o melhor jornalismo de tecnologia do Brasil.
As pegadas da ALAI
A ALAI nasceu em 2015 em Montevidéu, Uruguai, como uma aliança entre as latino-americanas Despegar.com, de viagens, e Mercado Livre, de vendas online, e as estadunidenses Yahoo, Facebook e Google. Seu primeiro diretor executivo, Gonzalo Navarro, disse numa entrevista à época que o objetivo era “contribuir para engrandecer o ecossistema da Internet, estendendo pontes entre os distintos atores que o compõem e desenvolvendo políticas públicas dentro de nossa competência”.
Hoje, entre as 14 empresas associadas estão a Amazon, o AirBnb e o TikTok, além da empresa latino-americana de entregas Rappi. Cada uma destas empresas paga até 50 mil dólares anuais para se associar, segundo os relatórios financeiros de 2023, registrados junto ao governo uruguaio. Algumas também pagam extra para projetos específicos. Esse ano, a ALAI relatou receitas de mais de um milhão de dólares, a maior parte proveniente da contribuição das techs, e gastos de 711 mil dólares.
A ALAI defende com afinco os interesses comerciais de suas associadas perante congressos, tribunais e entidades reguladoras. Posicionou-se contra regulamentações do turismo na Colômbia que buscavam limitar os aluguéis de curto prazo, como o que faz o AirBnb. No México, impulsionou um “marco regulatório equilibrado” no debate sobre os direitos trabalhistas dos trabalhadores de empresas como a Rappi, uma forma “elegante” de opor-se a que plataformas tenham a obrigação de dar-lhes um contrato de trabalho.
A ALAI diz que “não representa os interesses de empresas específicas nem faz atividades de lobby para empresas específicas, mas assim como qualquer outra câmara empresarial setorial, representa os interesses do setor em geral”.
No Brasil, a ALAI criticou propostas similares, e suas posições encontraram ouvidos atentos em alguns dos congressistas que estiveram no Digiecon 2025. A deputada Any Ortiz postou em seu Instagram que estava lá para falar de um projeto de lei de regulação do mercado digital (PL 2768/2022) do qual é relatora. “Esse ecossistema pode impulsionar empresas pequenas, médias e grandes, gerando mais inovação, competitividade e oportunidades”, escreveu.
Um mês depois, em 7 de maio, Ortiz reforçou seu pedido por uma audiência pública para debater um estudo publicado pela ALAI em setembro de 2024, justamente sobre esse projeto de lei — ela já havia feito o pedido em outubro de 2024, logo após o estudo ser lançado, mas apresentou uma nova proposição. O estudo conclui que o projeto de lei (PL) é prejudicial para a economia brasileira e poderia trazer um custo adicional aos usuários de mais de R$ 2 bilhões.
Treze dias depois, Sérgio Garcia Alves, gerente da ALAI no Brasil, disse —sentado ao lado de Ortiz na comissão da Câmara— que a iniciativa poderia causar “custos em cadeia” ao criar um imposto de 2% sobre as receitas operacionais das plataformas. Disse ainda que a lei de mercados digitais da União Europeia (DMA, na sigla em inglês) que serviu de inspiração para o PL, é “um modelo regulatório experimental, cujos benefícios ainda não são evidentes”.
Por sua vez, Ortiz disse que tinha dúvidas sobre a conveniência do projeto: afirmou que algumas das regras do DMA não se aplicam no Brasil e “seria necessário desenvolvê-las melhor” e também que a medida “poderia impactar o custo para o consumidor que usa os serviços digitais”. Repetiu as mesmas questões levantadas pela ALAI.
Em resposta a esta aliança jornalística, Ortiz afirmou que as posições que expressou na audiência “não derivam de uma entidade específica, mas de um processo amplo de reflexão e análise”, e que também representantes do governo para participarem no evento, mas eles “optaram por não comparecer”.
A congressista disse que buscou “ouvir todos os interessados” a respeito da regulação do mercado digital e que participa “regularmente de eventos nacionais e internacionais organizados por diferentes entidades”. Também afirmou que a solicitação da audiência que analisou o estudo da ALAI “não teve qualquer relação” com sua participação no Digiecon, pois ela já havia feito o pedido antes de ir ao evento. A congressista não respondeu quem financiou sua viagem ao Digiecon, mas afirmou que não foi a Câmara dos Deputados. Leia a resposta completa aqui.

A ALAI também esteve presente nas discussões brasileiras sobre o PL das Fake News (PL 2630/2020) que buscava regular as plataformas digitais e foi enterrado pelo lobby das plataformas, como revela outra reportagem desta investigação transnacional. Entre março e maio de 2023, quando o projeto estava prestes a ser votado, a associação publicou três comunicados (1, 2, 3) contra a aprovação. Argumentou, por exemplo, que o texto promovia um “risco de controle estatal das redes”, afirmação que segundo Artur Romeu, diretor do escritório da América Latina da Repórteres sem Fronteiras, não se sustenta.
“Regulação não é censura”, disse à Agência Pública. “O PL 2630 foi amplamente debatido durante anos com a sociedade e se baseia em modelos democráticos”.
Em 28 de março deste ano, Garcia Alves, gerente da ALAI no Brasil, assinou um texto no qual defendia a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que estabelece que as plataformas digitais só podem ser responsabilizadas por conteúdos de terceiros depois de uma ordem judicial. A regra estava sendo analisada pelo STF, num julgamento que terminou em junho deste ano.
Enquanto o Supremo decidia, a ALAI fez um almoço dirigido a autoridades brasileiras durante o Fóurm de Lisboa, conhecido como “Gilmarpalooza”, organizado pelo ministro Gilmar Mendes, um dos que votou no julgamento. Google, Meta, Tiktok e X estiveram envolvidas neste processo legal.
No entanto, a associação não conseguiu seu objetivo, pois o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que as empresas são responsáveis pelos conteúdos que geram danos, mesmo se não houver ordens judiciais.

Na Colômbia, a ALAI foi parte de uma coalizão de organizações que conseguiu que o Congresso modificasse uma norma que buscava regular conteúdos digitais nocivos para a saúde mental de menores de idade, segundo revela outra reportagem desta série.
Embora a sociedade civil também criticasse a iniciativa por considerar que dava poderes excessivos ao órgão regulador, os argumentos que ressoaram no Senado foram os do lobby das techs, que argumentaram que a norma poderia ameaçar a liberdade de expressão na Colômbia e “derivar na eliminação arbitrária de informação, limitando a diversidade de opiniões e vozes em espaços digitais”.
A ALAI também está por trás de outra iniciativa de influência na região: a Aliança por uma Internet Aberta (AIA), que de opõe-se à chamada “tarifa de rede”, proposta de que as Big Tech contribuam para a operação da infraestrutura de telecomunicações. A aliança começou no Brasil em 2023 e seu primeiro diretor executivo foi o ex-deputado federal brasileiro Alessandro Molon (PSB - RJ).
Em 2025, tendo a ALAI e várias de suas empresas associadas como membros fundadores, a iniciativa expandiu-se ao resto da América Latina. Sua diretora é a ex-diretora da Unidade Reguladora de Serviços de Comunicação do Uruguai, Mercedes Aramendía, um caso que reflete bem o mecanismo de "revolving door”, ou porta giratória, pelo qual as empresas buscam influência no poder público contratando ex-funcionários governamentais.
Questionada sobre a contratação de ex-funcionários públicos e sobre sua expansão pela América Latina, a AIA não respondeu. A entidade afirmou que representa “mais de 14 mil empresas no Brasil” e que “acompanha de perto as discussões sobre a pauta da taxa de rede e defende a neutralidade de rede como princípio essencial para a internet brasileira”.
A ALAI não respondeu a perguntas sobre sua relação com a AIA.
Lobby desde Washington no Brasil
Além da atuação da ALAI, as Big Tech também investiram em atividades de influência regional através de outras associações internacionais, como o Information Technology Industry Council (ITI) e o Center for Information Policy Leadership (CIPL), ambos sediados em Washington, e a Access Partnership, de Londres. As organizações atuaram, nos últimos anos, em discussões sobre regulamentações de empresas de tecnologia, IA e a tarifa de rede.

O ITI tem entre seus membros Amazon, Apple, Google, Microsoft, Meta, OpenAI, Oracle, Lenovo e NVIDIA. Segundo seu site, o grupo busca que “todos os governos do mundo desenvolvam políticas, normas e regulamentos que promovam a inovação e o crescimento da indústria tecnológica”. Foi fundado em 1916 e mudou seus membros com a evolução das tecnologias.
Entre 2023 e 2024, representantes do ITI realizaram pelo menos 11 reuniões com membros do Executivo brasileiro, segundo dados da Agenda Transparente, uma iniciativa do site Fiquem Sabendo. Visitaram agências reguladoras, ministérios e a Casa Civil da Presidência da República. Em várias destas reuniões, o ITI levou consigo representantes de empresas, como Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Mastercard, HP, IBM e Intel.
Segundo uma pessoa funcionária brasileira visitada pelo grupo, que falou sob reserva, o ITI é “muito ativo” no país desde 2016. Ao ser perguntada sobre como ocorrem os diálogos com os representantes setoriais, afirmou: “As empresas e associações costumam chegar, às vezes preparam um slide ou não, se apresentam e depois partem para um assunto mais específico para “mostrar o absurdo que está acontecendo” em determinada coisa. Elas “batem em todas as portas para procurar um ouvido mais receptivo”.
A Agência Pública solicitou via Lei de Acesso à Informação as atas, notas ou gravações das 11 reuniões entre o ITI e as autoridades brasileiras. A Casa Civil disse que a reunião serviu para que o ITI apresentasse “pontos de atenção” a respeito do projeto de lei 2.338/2023, que regula a IA. O Ministério das Comunicações informou que se discutiu a implementação de infraestrutura de comunicações e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) relatou que a discussão foi sobre requisitos de segurança cibernética e boas práticas regulatórias.
Na maioria das reuniões realizadas no Brasil estava o lobista brasileiro Husani Durans de Jesus, que foi funcionário do Ministério das Relações Exteriores entre 2013 e 2015, e agora é diretor para as Américas do ITI na sua sede em Washington. Segundo os registros de visitas no Congresso e publicações em redes sociais, Durans de Jesus viajou ao Brasil pelo menos três vezes nos últimos anos: em março de 2023, março de 2024 e setembro de 2024, às vezes acompanhado por outros membros do grupo.
Além disso, o ITI promoveu o seminário “Regulação do Uso das Redes de Telecomunicações”, em Brasília, em associação com a Editora Globo, para debater a cobrança da taxa de rede e seus “impactos” para a internet brasileira. A associação também assinou quatro artigos de “conteúdo de marca”, ou publieditorial, no site do jornal Valor Econômico.
Em setembro, quando o projeto 2.338 era debatido intensamente no Senado, Husani viajou ao Brasil acompanhado de Courtney Lang, outra vice-presidente sênior do ITI, que lidera o trabalho global de regulação de IA. Ambos se reuniram com funcionários da equipe do senador Eduardo Gomes (PL-TO), autor do projeto de lei. “Reunião fantástica”, afirmou Durans numa publicação nas redes.

Uma semana antes de chegar ao país, Lang fez recomendações muito específicas por videochamada, numa audiência pública sobre o PL. Uma delas foi eliminar dois artigos que enumeram os direitos dos usuários, pois eles “parecem indicar que há riscos significativos aos direitos humanos ao longo do ciclo de vida da inteligência artificial, o que, a meu ver, nem sempre é o caso”, disse.
O ITI também organizou recepções a congressistas brasileiros em Washington em março de 2024, segundo publicações no LinkedIn e pelo menos três relatórios de viagem elaborados pelos legisladores. Entre os presentes encontrava-se o senador Marcos Pontes (PL-SP), então vice-presidente de uma comissão do Senado que analisava o PL. Nessa comissão, Pontes pressionou para que a lei se ajustasse mais aos interesses das Big Techs. Meses antes, Pontes havia convidado Lang a uma audiência pública sobre esse mesmo projeto.
Em uma declaração enviada a esta aliança, a ITI afirma que interage com servidores públicos em todo o mundo “em representação do setor tecnológico, com a missão de promover políticas públicas e padrões da indústria que beneficiem a concorrência e a inovação”. Suas interações com atores políticos no Brasil, afirma, buscam “permitir que mais cidadãos, empresas e comunidades se beneficiem de maior conectividade e inclusão”.
Pontes não respondeu às perguntas enviadas pela Agência Pública sobre se considerava que havia algum conflito de interesse entre sua atuação na comissão e sua participação na viagem.
Naquela viagem aos Estados Unidos, os congressistas também visitaram o Centro para a Liderança em Políticas de Informação (CIPL, na sigla em inglês), um think tank que oferece a seus associados “oportunidades para trabalhar em importantes questões relacionadas com a privacidade e as políticas de informação com especialistas-chave em privacidade e partes interessadas de organismos reguladores, governos e o mundo acadêmico”.
Entre os associados estão Amazon, Google, Microsoft, Tools for Humanity, empresa responsável pela tecnologia Worldcoin, Telefónica e Mercado Livre. O CIPL foi fundado em 2001 por algumas empresas e um escritório de advocacia, Hunton Andrews Kurth LLP.
A viagem teve como objetivo que os parlamentares pudessem “elaborar recomendações e estratégias’ para “orientar a tomada de decisões e a elaboração de legislações relacionadas à IA no Brasil”, de acordo com o briefing do evento, ao qual a Pública teve acesso. A viagem foi organizada pelo Movimento Brasil Competitivo, uma organização que busca gerar proximidade entre o setor público e o privado.
Em seu relatório de gestão de 2024, o CIPL celebra que os legisladores brasileiros adotaram, no projeto de lei sobre o tema, várias recomendações do seu relatório sobre regulação global de IA.
A CIPL não respondeu a um questionário enviado por esta aliança jornalística.
Outras empresas de lobby internacional também estão trabalhando para influir na legislação do Brasil, um dos maiores mercados das Big Techs. Paula Corte Real, uma lobista brasileira da firma britânica chamada Access Partnership —que se autoproclama “a consultora tecnológica mais destacada do mundo”—, visitou a Câmara dos Deputados em pelo menos cinco ocasiões em 2025, segundo consta num pedido de informação feito pela Agência Pública.
No último ano, Corte Real visitou os deputados Reginaldo Lopes (PT-MG), Hélio Lopes (PL-RJ) e Lafayette de Andrada (Republicanos-MG), que é o presidente da Frente Parlamentar Mista da Economia e Cidadania Digitais (Frente Digital).
Nos tribunais e no Congresso
O lobby dessas associações se entrelaça com processos entre as Big Tech e reguladores estatais. No Brasil, o escritório Bialer Falsetti Associados (BFA), que defende a Meta em casos de proteção de dados que a empresa responde à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), tem como associada a advogada Ana Paula Bialer. Vários representantes do BFA participaram de seis reuniões entre o ITI e as autoridades brasileiras, três delas no escritório da ANPD.
A advogada não divulga em suas redes sociais sua relação com o ITI, mas em agendas públicas de autoridades brasileiras e em registros obtidos pela Agência Pública através de pedidos de acesso à informação, ela é apontada como consultora da associação.
Bialer também é uma lobista ativa no Congresso Nacional. Visitou a Câmara dos Deputados pelo menos 12 vezes entre 2023 e 2025, inclusive em datas de votação de projetos importantes. Em três dessas ocasiões, declarou como destino o escritório da deputada Luísa Canziani, primeira presidente da Frente Digital e atualmente presidente da Comissão Especial sobre Inteligência Artificial na Câmara dos Deputados, cujos potenciais conflitos de interesse são relatados em outra reportagem da série.
Em 2021, a advogada e a deputada assinaram juntas um artigo no qual defendiam uma regulação de inteligência artificial mais favorável ao setor privado, como revelou o Núcleo, parte desta aliança jornalística.

Sobre seu papel duplo como advogada e lobista de empresas tecnológicas, Bialer disse que “é uma profissional com reconhecida expertise em temas de tecnologia, privacidade e proteção de dados, cibersegurança e inteligência artificial e acompanha e participa como palestrante, com regularidade, em audiências públicas, seminários e mesas de debate sobre os temas mencionados”.
Bialer também afirmou que o escritório BFA assessora o ITI no Brasil “há muitos anos” e presta “serviços de consultoria jurídica e regulatória, assim como apoio técnico nas interlocuções do ITI com os formuladores de políticas públicas no país”, mas não ofereceu mais detalhes. Disse que as atividades estão “sujeitas à obrigação de sigilo profissional”.
Questionado, o escritório não respondeu se já representava a Meta quando se reuniu com a ANPD em nome do ITI, nem se há algum tipo de conflito de interesse em seus advogados participem de reuniões como consultores da associação internacional e, ao mesmo tempo, defenderem a Meta em outros processos.
Outro caso em que o lobby no Congresso se misturou a um litígio judicial é o de Lorenzo Villegas Carrasquilla, colombiano que atua desde 2020 como advogado do Google num processo contra a Superintendência de Indústria e Comércio (SIC). Em 2024, Villegas interveio numa audiência pública sobre um projeto de leu repetindo os mesmos argumentos que a empresa adotou nos tribunais.
Entre 2019 e 2022, a SIC exigiu do Google, Meta e TikTok que cumprissem a regulação colombiana de proteção de dados de menores de idade. Mas as empresas processaram o órgão regulador perante o Tribunal Administrativo de Cundinamarca, argumentando que a decisão violava seus direitos, uma vez que o processamento desses dados não ocorre na Colômbia, e portanto a lei do país não se aplicaria a eles.
O princípio de que as empresas cumpram as leis dos países onde estão seus usuários, sem importar onde está sua sede, chama-se extraterritorialidade. “Isto é dizer às empresas, ‘mesmo que você não esteja no nosso território, se você coleta dados dos nossos cidadãos, você tem que cumprir nossa legislação’”, explicou Heidy Balanta, advogada especialista em dados pessoais.
Juristas colombianos expressaram opiniões diversas sobre se o regulador colombiano pode aplicar este princípio. Em todo o caso, dois projetos de lei teriam resolvido o problema – se não tivessem sido arquivados: 156, de 2023, e o 152, de 2024. Ambos propunham que o tratamento de dados coletados na Colômbia por uma empresa com domicílio em território colombiano cumpra a lei nacional de proteção, sem importar se são processados no exterior.
Na audiência pública, o advogado Villegas disse que o projeto de lei poderia afetar a liberdade de expressão dos jornalistas — argumento compartilhado por representantes da sociedade civil— e a liberdade de empresa. Mas depois expressou outra preocupação: o projeto é “um desincentivo ao tratamento de dados particularmente no mundo digital, desde o exterior para a Colômbia”. Além disso, acrescentou que a iniciativa “vai na contramão da Constituição, que estabelece que as leis colombianas se aplicam no território colombiano, para as pessoas que se encontram no território colombiano”.
Villegas não mencionou no Congresso seu papel na equipa jurídica do Google.
Perguntado sobre por que não o fez, Villegas não respondeu. Disse que foi convidado a participar dessa audiência pública na sua qualidade de advogado especialista em direitos digitais e que aceitou porque considera “fundamental aportar elementos técnicos e jurídicos que contribuam para enriquecer a discussão legislativa”.
A ALAI, e outros aliados das Big Tehcs, seguiram a mesma linha de argumentação. Um comentário ao projeto de lei de 2023 assinado por Nieto, o lobista da ALAI, diz que “num mundo globalizado, no qual é possível oferecer serviços a qualquer parte do mundo, pretender que todos aqueles [serviços] que se oferecem na Colômbia devam cumprir com estas disposições é um desincentivo para que efetivamente estejam disponíveis na Colômbia uma diversidade de serviços digitais”. E María Fernanda Quiñones, diretora da Câmara Colombiana de Comércio Eletrônico, disse na audiência pública que “uma norma com aplicação extraterritorial compromete ou desincentiva a competitividade do país”.
Para as Big Techs, é preocupante que regulamentações como esta gerem problemas para administrar e distribuir seus produtos internacionalmente. “A extraterritorialidade não agrada às Big Techs porque as submetem a muitas leis, e como elas têm presença em tantos países, isso gera um alto custo de conformidade”, explicou a essa aliança jornalística Viviana López, advogada de transparência e direitos digitais na Dejusticia, um centro de estudos sociais que promove o estado de direito no Sul Global.
“No entanto, pode-se dizer que a solução seria fácil: aplicar o padrão de proteção mais alto em todos os países”. A União Europeia é a que hoje tem o padrão mais alto de proteção de dados para seus cidadãos, e obriga as tecnológicas a cumpri-lo.
Para Heidy Balanta, advogada especialista em privacidade, a consequência de que países como a Colômbia não possam aplicar suas leis de proteção de dados é que as Big Techs acabam tratando seus usuários colombianos como “cidadãos de segunda classe”.
Segundo ela, as empresas desenham seus produtos para proteger apenas quem vive nos países que têm regras estritas de privacidade, enquanto nos demais “os cidadãos, em muitas ocasiões, ficam sem ferramentas porque o desenho da plataforma não lhes facilita exercer seus direitos”.
Na Colômbia, os projetos de lei que poderiam resolver isto naufragam no Congresso; e nos tribunais, a decisão sobre se a SIC segue em curso. “Esse processo é eterno”, diz López.
No Brasil, a negativa das plataformas sociais a cumprirem leis nacionais foi um dos argumentos usados pela administração Trump em julho passado para impor tarifas de 50 por cento aos produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos.
Em sua carta as tarifas, Trump mencionou decisões nas quais a Suprema Corte havia pedido a plataformas como X e Facebook, suspender contas de pessoas investigadas que as utilizaram para incitar a um golpe de Estado, ameaçar juízes e distribuir desinformação.
O Representante de Comércio dos EUA também iniciou uma investigação “devido aos contínuos ataques do Brasil contra as atividades comerciais digitais das empresas estadunidenses”. A decisão de Trump foi aplaudida pelo sindicato Indústria de Computação e Comunicações (CCIA na sua sigla em inglês), financiada por empresas como Google, Meta e Amazon, segundo revelou a Agência Pública.
Portas giratórias
As Big Tech também recorrem a outra estratégia para se aproximar das autoridades: a contratação de pessoas que ocupavam cargos públicos, o que se conhece como porta giratória. Esta aliança jornalística identificou pelo menos 59 casos que se encaixam nessa definição em Brasil, Canadá, Colômbia, Chile e Mexico.
No Brasil, o caso mais notório envolve o ex-presidente Michel Temer, que foi contratado pelo Google em meados de junho de 2023 para reforçar a pressão da empresa ao Congresso Nacional e fazer a “mediação” com os parlamentares, como ele mesmo confirmou ao jornal Folha de S. Paulo, quando o PL das Fake News seguia em discussão.
No total, o Núcleo identificou pelo menos 59 casos de lobistas de empresas tecnológicas que anteriormente passaram por organismos públicos no Brasil —68% dos lobistas mapeados para esta investigação.
Um exemplo é Sérgio Garcia Alves, da ALAI, que trabalhou na Anatel, na Casa Civil e no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação antes de se tornar gerente de políticas públicas na associação.
No Chile, a advogada Aisén Etcheverry foi repreendida pela Controladoria de seu país por ter sido parte, em 2019, de um comitê que tomou uma decisão a favor da Amazon Web Services, a empresa na qual havia trabalhado meses antes. Apesar disso, sua carreira seguiu em ascensão: foi Ministra da Ciência, Tecnologia, Conhecimento e Inovação entre março de 2023 e julho de 2025.
Em paralelo, foi a ministra porta-voz do governo de Gabriel Boric entre dezembro de 2024 e julho de 2025. Seu caso mostra como a proximidade de alguns funcionários com as Big Techs tem ajudado estas multinacionais.
A decisão que motivou a decisão contra ela “foi o resultado de um processo aberto, onde se receberam distintas propostas”, disse Etcheverry a esta aliança jornalística.
Na Colômbia, um funcionário público que primeiro havia investigado uma empresa tecnológica para determinar se cumpria ou não com a lei, passou depois a ser seu anfitrião em eventos acadêmicos.
A história é a seguinte: em 30 de maio de 2024, o Worldcoin, serviço que escaneia íris de pessoas, foi lançado na Colômbia. O serviço oferece dinheiro em troca da obtenção dos dados pessoais e diz que com esse procedimento pode “verificar a humanidade” de seus usuários, ou seja, garantir que são seres humanos e não ‘bots’.
A Tools for Humanity (TfH), a empresa matriz da Worldcoin, foi fundada por Sam Altman, CEO da Open AI e é um dos executivos mais influentes dessa indústria. A TfH foi proibida de operar no Brasil por desrespeitar a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).
No dia seguinte, a SIC publicou um breve comunicado de imprensa em sua página web: “Convidamos os cidadãos a informar-se diligentemente sobre as eventuais consequências de outorgar acesso à sua íris a esta companhia, pois a empresa referida não demonstrou… que esta prática não implica a recolha de dados pessoais sensíveis”. O órgão regulador também anunciou uma investigação contra a TfH para verificar se esta cumpria as leis de proteção de dados. (A investigação continua em processo em agosto de 2025).
O advogado Grenfieth Sierra liderava a delegação de dados pessoais da SIC entre fevereiro e dezembro de 2024. Mas em 2 de abril de 2025, já fora da SIC e como professor da Faculdade de Jurisprudência da Universidade do Rosário, o tom de Sierra mudou.
“Manter privacidade estrita não é um bom negócio. Precisa-se romper lógicas de privacidade, porque essas lógicas de privacidade é o que se denomina monetização”, disse num evento acadêmico na sua universidade. Também afirmou que são os cidadãos quem deveria decidir o quanto de sua privacidade decidem entregar às empresas.
No evento, antes de Sierra, falou a diretora de assuntos públicos da TfH, Lorena Buzón. Ela primeiro agradeceu ao professor Sierra “por levar a cabo estas discussões”, e depois afirmou que seu produto é, na realidade, uma “tecnologia de melhoria da privacidade”.
Numa publicação em seu LinkedIn, Buzón diz que Sierra organizou a conferência, e uma fonte da universidade o confirmou. Não houve menções aos desentendimentos do passado: nem o anfitrião Sierra nem ninguém mais falou das medidas tomadas pelo mesmo contra a Worldcoin, ou sobre as dúvidas que ele expressara sobre o produto em várias ocasiões. Tampouco se discutiu o fato de que a Worldcoin teve problemas com os reguladores de vários países por preocupações sobre como mantém dados pessoais de seus usuários.
Sierra respondeu à reportagem que a investigação da SIC estava a cargo da diretora de investigações de dados pessoais, e não dele. Embora ela fosse sua subalterna direta, ele disse que nunca assumiu “competência para investigar a TfH”. Além disso afirmou que o evento foi organizado pela Universidade e que seu papel foi cumprir “tarefas de coordenação”, e que nem ele, nem a instituição receberam qualquer compensação pelo encontro.
Os que não contam
Para os usuários da América Latina, são imprescindíveis aplicativo como WhatsApp, as redes sociais TikTok, Facebook e Instagram, o YouTube, a busca do Google ou as nuvens da Amazon. São usados para conversar, se informar, arquivar suas fotos e documentos e expressar suas visões de mundo. Por isso, quando algo dá errado e — por exemplo — uma menina cai nas mãos de um pervertido sexual que a atraiu em um grupo de uma rede social, as pessoas gostariam de saber para quem reclamar e onde denunciar a página perigosa.
Muitos usuários não sabem como fazer para que uma plataforma os escute, nem como apresentar uma reclamação, nem quando têm direito a fazê-lo. Não é fácil nem mesmo para organizações reconhecidas da sociedade civil, como a colombiana Red Papaz, que tentou reunir-se com as Big Tech para conversar sobre como evitar danos aos menores. “É como falar com uma parede que te diz, de antemão, que não vai fazer absolutamente nada”, contou ao CLIP e a Cuestión Pública Alejandro Castañeda, chefe do Centro de Internet Segura desta ONG.
Os mecanismos de proteção das plataformas também não são tão eficazes. Na Colômbia, um estudo da Comissão Reguladora de Comunicações, publicado em 2025, concluiu que apenas 48% dos pais ou mães de menores de idade usam as ferramentas de proteção para filtrar conteúdos audiovisuais em plataformas como o YouTube; e apenas 34% as utilizam nas redes sociais.
No México, um relatório de 2022 do Instituto Federal de Telecomunicações constatou que apenas 26,2% dos usuários de internet residencial utilizam alguma ferramenta de controle parental. E nos Estados Unidos, plataformas como Discord e Snapchat informaram ao Congresso em 2024 que menos de 1% dos pais de crianças utilizam essas ferramentas.
Mesmo quando se conhecem esses mecanismos, não há garantia de que funcionem. Iniciativas como o Circuito, da organização colombiana Lanterna Verde, documentaram essas injustiças. Por exemplo, um cartunista colombiano foi falsamente acusado de disseminar conteúdo de ódio e perdeu sua conta no TikTok por 10 anos. Outro caso é o de um popular criador de conteúdo mexicano que foi suspenso do YouTube por um vídeo em que falava sobre formas legais de emigrar para o Canadá. Às vezes, usuários com contatos, ou com contas muito populares, conseguem reverter essas decisões, mas muitos não conseguem.
Muitos países nem sequer têm escritórios locais da Meta, Google ou TikTok. Normalmente os assuntos do Equador e do Peru são tratados a partir de escritórios na Colômbia, os do Uruguai, Chile e Paraguai, a partir da Argentina, e os da América Central, a partir do México. X, o antigo Twitter, fechou todos os seus escritórios na América Latina e atende apenas a partir de sua sede nos Estados Unidos.
Pelo tamanho do seu mercado e pela maneira como as autoridades tentaram impor limites às Big Tech, o Brasil é a exceção, com escritórios próprios para a maior parte das plataformas.
Por outro lado, na hora de enviar relatórios financeiros às autoridades, várias dessas plataformas nem sequer separam as receitas, gastos e pagamentos de impostos relacionados à América Latina, e os agrupam com outras regiões do mundo.
Para Castañeda, da Red Papaz, nosso uso de plataformas digitais é “injusto em comparação com o consumo que outros usuários em outros países estão tendo”. Essa injustiça também se vê na regulação que as autoridades conseguiram aprovar na Europa por exemplo, e que as Big Techs conseguem frear por aqui.
Isso, apesar de a maioria apoiar a regulação desses gigantes. Um estudo realizado pela Ipsos constatou que “55% das pessoas na Argentina, Brasil, Colômbia e México apoiam a regulação da IA, e a proporção aumenta para 65% entre aqueles que declaram ter um bom conhecimento da ferramenta”.
Na Europa, a Lei Geral de Proteção de Dados permitiu que cidadãos de 11 países europeus processassem a Meta para que suas informações não fossem usadas para alimentar modelos de inteligência artificial. A empresa teve que parar de fazê-lo e decidiu não lançar alguns produtos de IA naquele continente.
Em contraste, a maior parte dos usuários latino-americanos da Meta não pode impedir que a empresa use seus dados para alimentar seus modelos de IA, como denunciou a organização Access Now. “Na maior parte dos países da região não existem leis de proteção de dados pessoais e em outros onde elas existem, estão desatualizadas”, explicou a entidade.
Novamente, uma exceção é o Brasil, onde a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) proibiu, em junho passado, que a Meta utilizasse dados de usuários do país para treinar a IA. Depois de cumprir com as medidas impostas pela ANPD — que incluem não utilizar informações de crianças e permitir que os usuários neguem o acesso a seus dados — a empresa retomou a prática, com algumas restrições. Em dezembro, a autoridade também impediu que a X utilizasse contas de crianças e adolescentes para alimentar sua IA.
A falta de regras sobre o uso de dados convém às Big Tech. Como diz a Alphabet, a controladora do Google, em seu relatório anual de 2024 para a Security and Exchange Commission (SEC), órgão regulador do governo americano, “cumprir essas leis e regulamentos pode ser oneroso para nós e, individual ou conjuntamente, aumentar nossos custos operacionais, reduzir a utilidade de nossos produtos e serviços, limitar nossa capacidade de realizar determinadas práticas comerciais ou oferecer determinados produtos e serviços”.
Assim, governos e reguladores, com marcos legais fracos, poucos recursos e, muitas vezes, uma compreensão limitada de tecnologias complexas, devem enfrentar essas empresas.
O resultado são empresas fortes, regulações fracas e usuários desprotegidos. É, como diz Andrés Hernández, da Transparência pela Colômbia, “um campo de jogo completamente desigual”.